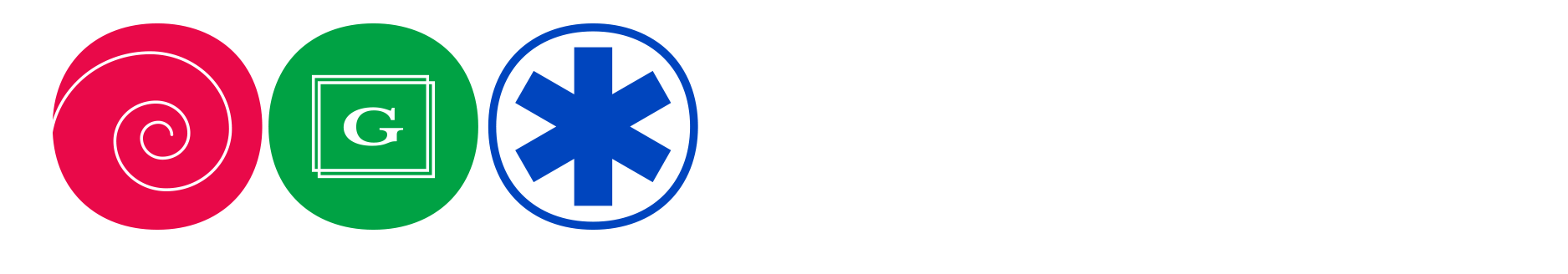Eu quero mais
Eram os primeiros dias de Pandemia global, anunciada pela Organização Mundial de Saúde. As pessoas procuravam alternativas por todos os lados, para solucionar problemas que ninguém fazia idéia sobre o que realmente eram. Nas farmácias da cidade já faltava álcool em gel e máscaras de proteção. E eu era uma dessas pessoas que carregavam nas costas a missão de ser provisão para a própria família. Em algum lugar no Twitter, li que uma pequena papelaria, numa das ruas que formavam o finalzinho da Avenida Paulista, ainda vendia o – naquele momento escasso – sanitizante para as mãos. E eu decidi estar lá antes da loja abrir, para garantir um pouco e começar o tempo de quarentena com alguma quantidade em casa.
O sentimento era de dor. Não apenas pela incerteza sobre como seriam os próximos dias ou como o ano se desenharia. Tudo doía em mim exatamente no lugar onde sempre dói. Você tem uma dor crônica? Uma parte do seu corpo que você sabe que tem uma dorzinha teimosa, que sempre volta? O lugar que sempre dói no meu coração é onde diz: “eu quero viver mais que isso”. E era como eu me sentia. Na porta da pequena papelaria tinha um ponto de ônibus, onde me sentei para esperar o relógio apontar as oito da manhã. Entendi que ninguém sabia o que eu estava sentindo, e pior, ninguém se importava com isso. Comecei a chorar. Eu amo estar em São Paulo porque ninguém costuma perguntar o motivo pelo qual as pessoas choram na rua. Em Maceió, onde nasci, se você começa a chorar em público deve estar preparado para dar explicações. Eu não sou um homem que engole o choro. Eu sempre chorei, lá no Nordeste e aqui, em plena Avenida Paulista. “Tem que haver mais vida que isso”, suspirei fundo.
A papelaria abriu e eu comprei uma caixa pequena, com algumas unidades de álcool em gel em charmosas garrafinhas. Estava orgulhoso em ter cumprido minha função como chefe de família naquela manhã. Precisava voltar rápido para casa e começar a trabalhar. Olhando os prédios exatamente à minha esquerda, me lembrei:
“- A clínica da Cris fica bem aqui”
Cristina Galindo é a mãe única de uma das minhas melhores amigas, sua filha única. A repetição das palavras é proposital aqui… São duas figuras muito únicas mesmo. No nosso grupo de amigos, vários deles já mencionaram ter sentado em seu divã. Eu também o fiz, algumas poucas semanas antes disso, mas não para uma sessão de terapia. A Cris tinha me convidado para visitar sua clínica e resolver um problema que se aproximava de um cabo de guerra entre mãe e filha, no melhor dos sentidos.
Mari Galindo é uma das melhores profissionais que conheço. Muito antenada no que diz respeito a tecnologia e informação, seu lado “retrô” (que todo mundo tem) repousa na arte digital e no Design Gráfico. Ela vai torcer o nariz ao ler essa linha, mas a considero uma designer incrível, com a qual eu teria a honra de trabalhar em um projeto que ela estava quase desistindo de abraçar: uma identidade visual para o trabalho de sua mãe, como psicóloga e como acadêmica de psicologia. E você deve imaginar como o desenvolvimento de uma marca pessoal, um momento que pede tanto autoconhecimento, se torna muito tenso com questões familiares cruzando a linha.
Era um dia ensolarado em São Paulo e eu cheguei com facilidade ao endereço perto de uma rua tão icônica como a Avenida Paulista. Era mais fácil naquele momento, quando as máscaras não eram obrigatórias. Não precisei tocar a campainha para entrar naquele antigo prédio comercial. Entrei no vácuo de alguém que saía e já estava caminhando lentamente no hall de entrada todo em Art Deco. Subi um lance de escadas e já estava na clínica, que tinha um aspecto comum. Não era nada feio, mas ao mesmo tempo nada esteticamente pensado para ser uma obra prima de design. Um grupo de profissionais estava lutando para ver aquilo acontecer, e eu consigo sentir esse tipo de vibração quando vejo peças prontas e colocadas, como aquela marca numa porta de vidro.
Esperei por alguns minutos a chegada da Cris. Ela tinha deixado o meu horário agendado com sua secretária, e a cena toda era de uma consulta psicoterápica. Não era o caso. Eu já estava em terapia há um ano e me parecia ótima a oportunidade de conversar sobre trabalho envolvendo essa área. A minha motivação ali era entender o que aquela profissional desejava expressar ao se comunicar com seus clientes. Quem era aquela mulher da qual tantos amigos falavam, mas que eu não conhecia pessoalmente? Quais eram seus gostos? Em que ponto a sua comunicação se tornava ruidosa para os seguidores, e principalmente para os consumidores de mídias sociais naquele momento? Eu tinha tudo isso anotado num caderno mental e eu nunca faria essas perguntas diretamente a ela. Minha observação me daria as respostas.
Tínhamos marcado um encontro na hora do almoço, e justo naquele dia, minha provável cliente não poderia me acompanhar comendo. Cristina chegou falando em um tom de voz não muito natural, com um lado do rosto levemente inchado. Ela me relatou que tinha feito um procedimento cirúrgico em sua boca que estava levando mais tempo que o normal para cicatrizar. “Nossa, cicatrização de cirurgia nessa região é péssimo, eu levei meses para me recuperar da minha retirada de amígdalas!” Tentei soar familiar, me lembrando do que havia vivido no ano anterior. A verdade é que ela trabalha muito. Engraçado como sempre me aproximo desse tipo de pessoa. Se tivéssemos o dobro de feriados que já temos no Brasil, a Cris trabalharia em todos eles se essa frequência laboral dependesse do número de pessoas que ela precisa atender semanalmente (ou do número das pessoas que solicitam seus serviços). E alguém assim precisava se posicionar ainda mais na Internet? Era com essa demanda que eu deveria lidar.
Conversando muito, percebi que era possível dividir aquela avalanche de desejos em duas partes: primeiro, era preciso posicionar a marca. Ela até gostaria de criar uma outra e eu discordei. Cris tem uma assinatura pessoal charmosa e eu amo ver essas assinaturas sendo usadas como marca. A outra possibilidade era “despersonalizar” a marca e esfriar tudo, chamando apenas de “Galindo psicoterapia”. Como acabei de dizer, eu não gostava da ideia, mas gosto de provar que uma ideia não é boa.
Apresentei uma proposta de marca e coloquei ao lado da que já era existente, apenas para demonstrar como já tínhamos um símbolo forte e precisávamos apenas de um rebrand, um melhoramento do suporte em volta daquela imagem principal. A imagem era autêntica! Uma pessoa, uma história, uma família. E foi nesse momento que percebi que não funcionaria cuidar disso sozinho. Chamei minha querida amiga de volta para o projeto, dividindo os riscos de realizar esse movimento.
A minha dor crônica não é uma exclusividade minha. Me parece que sempre posso encontrar alguém que também quer viver um pouco mais do que se tem. Eu descobriria que tudo no trabalho daquela renomada e estudiosa terapeuta ia muito bem (e inclusive era necessário um certo esforço para dar conta de todo o ritmo), mas ela desejava ver (e viver) um pouco mais.