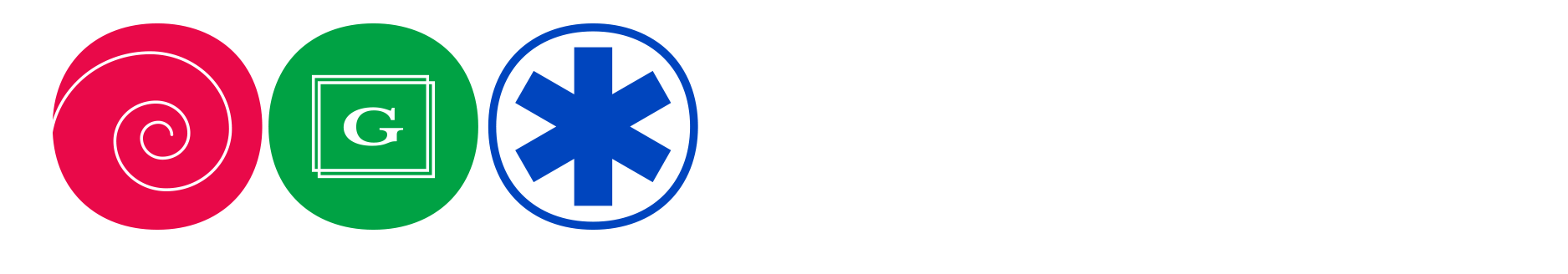A dor é uma sinfonia que nunca para de tocar
Quando meu irmão me acordou numa manhã de domingo com uma ligação para me avisar que meu pai tinha morrido repentinamente, eu estava na linda cidade de Ouro Preto. Receber a notícia mais difícil da minha vida até aqui me deixou anestesiado. Eu não fazia ideia da quantidade de dor com a qual teria que lidar nos dias que se seguiram. Enquanto eu esperava o transporte que me levaria de volta ao aeroporto e ao começo da jornada do funeral, eu tentava me distrair numa simpática livraria em frente ao hotel. Um livro me chamou atenção e eu sabia que encontraria naquelas páginas alguém que poderia se identificar comigo: Frida Kahlo.
Até aquele dia, Frida para mim era uma boa referência. Até 2016, Frida era só um “verbete de um dicionário de artes”. 2016 foi um outro período dolorido, onde me separei de tudo o que eu imaginava que seria na vida, do que eu havia sonhado para o que seria a minha própria vida. Foi um divórcio meu de uma parte muito importante de mim. Estive em uma exposição em Brasília (onde eu morava na época) e pude ver as peças, as ideias e inclusive parte do guarda-roupa original daquela que se tornaria uma das vozes que me trazem pela mão até o momento que vivo hoje.
A imagem de Frida Kahlo se tornou um ícone pop nos anos 2000, totalmente dissociada do que é mais profundo sobre sua pessoa: sua arte. A figura do designer hoje sofre do mesmo aprisionamento. O mercado, o marketing digital e os modos de funcionamento que usam o design como invólucro para seus produtos tem transformado os artistas em meras estampas, figuras por trás de grandes iMacs ou seres de óculos em cafés importados com Macbooks no colo.
Linguagens como o coach de palco, amplamente reproduzido no Brasil desde os Estados Unidos, aplacaram a manifestação de algo que considero ser muito importante, principalmente por ver que esse era o combustível da obra de Frida Kahlo: a dor. Está proibido falar de dor, expressar a dor, apontar para a existência da dor. Nunca esqueci do quanto eu era silenciado, criticado e até ameaçado por meus chefes se postasse algo referente a alguma dor que sentia. Mas a minha dor sempre foi o que conduziu a minha arte, como aconteceu com Frida.
Vou dedicar apenas um parágrafo a explicar essa biografia. Se você ama arte, ou apenas tem curiosidade de saber quem é a mulher de flores na cabeça que estampa as capas de celulares modernosos por aí, deveria sentar e pesquisar a fundo os artigos, filmes, livros e tanta coisa sobre essa artista, feminista, bisexual, comunista e vanguardista da arte no século XX. Canceriana como eu, nascida em julho de 1907 em minha amada Cidade do México, Frida foi uma mulher que viveu dores intensas a vida inteira. Um acidente em 1925 mudaria toda sua condição física. Um segundo acidente, Diego Rivera, mudaria para sempre toda a sua condição emocional. Corpo e alma destroçados, Frida se levantava sobre duas colunas: sua arte e seus ideais. Foi quando concluiu que não precisava de pés (pois os seus apresentavam muitos problemas), pois tinha asas para voar.
A pintura sempre foi um espaço de busca pelo autoconhecimento, e ela mesma explica o motivo de ser o centro de suas obras: “pinto sempre a mim mesma porque estou sempre sozinha, sou o assunto que conheço melhor˜. Não é verdade que Frida esteve sempre só. Em plenos anos 20 uma mulher que vivia de sua arte, com consciência política, opinião firme e com um corpo livre para viver sua sexualidade era algo muito à frente daquele tempo. Essa era a real solidão que vivia: ninguém conseguia adentrar seu mundo.
Não vou entrar na discussão que “design não é arte”. Não a considero frutífera. Prefiro focar no fato de que ser artista é a essência de quem eu sou. E a minha arte é fruto do meu constante sangramento. Hoje eu aceito que ninguém consegue acessar o meu mundo, por mais que eu queira abrí-lo. Apesar de não ter dificuldades de locomoção, como Frida, eu me levanto todos os dias me apoiando na minha criação, motivado pela minha dor. Sou inspirado nas cores de Frida Kahlo que trazem consigo sua própria história, suas raízes culturais, suas desilusões e seu sangue, muito sangue, presente em quase todas as telas.
A obra de Frida é de coloração simples e bucólica, demonstrando a linguagem direta para comunicar sem saber de nuances ou muitas camadas de informação. O vermelho do sangue é a base das cores primárias que ela utiliza, usando fortemente o simbolismo, mas sem muitos rodeios. Desde “Unos Cuantos Piquetitos“, sua primeira tela, todo o recado é dado de uma vez só, em plano aberto. Mas, toda essa mensagem crua não precisa ser passada de forma bruta. Toda a “cama” de seus quadros trazem bucolidade, feminilidade e a simplicidade delicada que está em toda a cultura latino americana, especialmente no México, onde se costuma ter leveza sobre tragédias (talvez por se viver muitas delas), incluindo a própria morte.
Eu não costumo retratar sangue em meus trabalhos, mas só eu sei a ferida de onde extraí cada um deles. Cada peça que é fruto de um “não” que já ouvi tanto da vida. Vida que destruiu a Frida, e a mim também. Acredito que o mercado anseia ver mais designers que trazem consigo suas experiências, as cores de suas culturas e seus ideais de vida. Isso é totalmente possível, mesmo dentro do mundo corporativo. A dor é uma sinfonia que nunca para de tocar, mas quem estaria disposto a mostrar a um mundo que nega a existência desse sentimento (e se propõe a seguir pessoas que teatralizam uma vida perfeita em seus telefones), a lembrança de uma ferida aberta?